Homicídios crescem, a polícia faz ações destrambelhadas, PMs são mortos. Os números assustam e o governo admite uma “escalada na violência”. Em salas de aula e em pesquisas de campo, o tema fervilha. Livros, teses, mapas, estatísticas tentam decifrar o fenômeno e propor políticas para atacá-lo.
Foi em meados dos anos 1970 que a violência tornou-se uma questão intelectual no Brasil. Em plena ditadura militar, surgiam movimentos pela anistia, contra a tortura, pelos direitos humanos.
Colagem da artista plástica Manuela Eichner sobre fotografias de Marlene Bergamo
O país se urbanizava e crescia, a renda se concentrava. Os crimes, tradicionalmente concentrados em áreas de disputas por terra, migraram para as cidades. Muitos que estudavam a situação no campo passaram a se preocupar também com a violência urbana.
Sociólogos, antropólogos, advogados foram para ruas, favelas, cadeias, delegacias, governos, bibliotecas analisar o problema. Policiais saíram em busca de formação acadêmica. Cerca de 10 mil mestrados e doutorados sobre segurança foram defendidos desde 1983. Lançamentos recentes recuperaram a trajetória dos desbravadores dessa “violentologia” e revelam uma nova geração de intelectuais às voltas com estatísticas e personagens dessa história.
Um dos trabalhos mais vigorosos da nova geração é do sociólogo Gabriel de Santis Feltran, 36. De 2005 a 2010, ele esquadrinhou uma fatia da periferia paulistana –três bairros do distrito de Sapopemba, na zona leste. Entrevistou lideranças e moradores. Viu famílias se constituindo e se esfarelando. Observou a explosão da violência, os ataques do PCC, a corrupção policial.
O resultado está em “Fronteiras de Tensão – Política e Violência nas Periferias de São Paulo” [Ed. Unesp/Centro de Estudos da Metrópole, 273 págs., R$ 37], eleita a melhor tese de doutorado de 2009 pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs).
Em Sapopemba vivem mais de 300 mil pessoas. Limite da cidade nos anos 1970, a região cresceu no embalo da industrialização do ABC e da Mooca. Eram migrantes com famílias de arranjo tradicional e católicos que buscavam a ascensão social nas linhas de montagem.
O emprego operário da estrutura fordista deu sustentação à criação de loteamentos e conjuntos habitacionais. No bojo dos movimentos pela redemocratização, criaram-se associações para reivindicar melhorias nos bairros.
As mudanças econômicas dos anos 1980 e 90 atraíram novas famílias, desta vez sem histórico de trabalho estável nem projeto de ascensão claramente formulado. Como diz Feltran, “não havia marido empregado na indústria nem planos claros de educar os filhos para fazê-los doutores e saírem dali um dia. Não havia, tampouco, a mesma ênfase no associativismo, tão marcante na trajetória operária que redunda no movimento sindical, forte no distrito”.
A representatividade dos movimentos sociais diminuiu, o trabalho assalariado formal escasseou e o pentecostalismo cresceu. Ao mesmo tempo, melhorou o acesso às políticas sociais e ao crédito. O crime avançou e passou a disputar a atração dos mais jovens.
Entremeados com as análises estão os depoimentos de jovens e pais que precisam lidar com a brutalidade de policiais e traficantes. Famílias se veem enredadas no mundo do crime, que passa a ser parte da comunidade. Mães entram em crise de depressão profunda. O sociólogo desconstrói a interpretação de que a violência está banalizada na periferia.

Colagem da artista plástica Manuela Eichner sobre fotografias de Marlene Bergamo
Narra, por exemplo, o caso de Ivete, pensionista entre 50 e 55 anos, que chegou de Salvador em meados dos anos 1980, fugindo da violência doméstica. Cinco de seus oito filhos se envolveram com o crime. Assistiu a uma série de prisões e a invasões policiais em sua casa. “Cheguei a ficar louca. Não comia, bebia, não reconhecia ninguém. Perdi toda a lucidez”, ela conta.
Feltran mostra como se dá, nas famílias, a disputa entre ladrões e trabalhadores: “Os filhos do crime trazem mais dinheiro para casa; os trabalhadores confortam a mãe, fazendo crer que seus princípio morais não se perderam”, diz. “As famílias não podem contar com proteção social; há uma derrocada da promessa de universalização dos direitos da cidadania.”
Para o sociólogo, em alguns casos “o monopólio da violência legítima pelo Estado já é ficção”: “Os traficantes e ladrões pouco a pouco assumem o papel da força armada que regula as regras de convivência e faz a justiça no varejo, pelo debate constante de qualquer atitude considerada inadequada, ilegítima ou imoral”.
O sociólogo narra como se constroem as fronteiras entre “favelados” e “operários”. E como as divisões caricaturais entre “bandidos” e “trabalhadores” se tornam porosas com o avanço do crime e o fracasso na inclusão social. Para ele, a “criminalização da pobreza” só alimenta o PCC.
Se a favela, nos anos 1980, já teve o rótulo de lugar de trabalhador em São Paulo, hoje tem sido identificada politicamente com “violência, portanto lugar de bandido”. “Portanto, que não se pode integrar, mas, ao contrário, que se deve controlar, punir, se possível expurgar da vida”, diz.
E completa: “Sempre se toma uma pequena parte pelo todo e se constrói um significado totalizante, que não é inocente. A incriminação dos pobres é a estratégia central de gestão do conflito urbano. Nada mais autoritário”. Leia entrevista com Feltran aqui.
Mas a política de valorização do salário mínimo e a melhoria no emprego, que ampliam o consumo, não mudam o quadro na periferia? Feltran relativiza a mudança: “O desenvolvimento não atinge todo o tecido social por igual”.
“Os migrantes que fundaram os bairros têm filhos e netos com percursos muito díspares. Muitas vezes, na mesma família há os que conseguiram fazer faculdade e montaram negócios, os que lutam para manter suas casas e os que acabaram no crime ou no crack. Essa heterogeneidade tem sido muito moralizada, mas pouco compreendida”, assevera.
SUPREMACIA
“O Brasil é, hoje, um dos países mais violentos do mundo, e sabemos pouco das razões dessa supremacia”, constata o sociólogo Claudio Beato em “Crime e Cidades” [Editora UFMG, 291 págs., R$ 60]. É aqui que, em termos absolutos, mais pessoas morrem vítimas de agressão. A marca de 1 milhão de homicídios foi atingida em 2009. Dez por cento dos homicídios dolosos do mundo ocorrem no Brasil.
Beato fez um raio-X do crime nas metrópoles brasileiras e mostra que os homicídios são hoje a principal causa de mortes de jovens entre 15 e 25 anos no país. Homens, negros, moradores de periferias urbanas são os personagens –matando e morrendo.
“O paradoxo nessa evolução negativa na segurança pública é que ela ocorreu justamente num período de melhoria generalizada dos indicadores sociais, bem como de fortalecimento das instituições democráticas brasileiras”, diz Beato.
“As chances de morrer, vítima de homicídio, quando se é um homem jovem habitante da periferia, chegam a ser de até trezentas vezes mais do que para uma senhora de meia idade que habita bairros de classe média”, escreve. “Todos os esforços de nosso sistema de Justiça e de organizações às voltas com segurança pública parecem proteger justamente aqueles que estão menos expostos à violência. A concentração de equipamentos de proteção social, bem como de recursos de segurança pública, se dá de forma desigual”.
Apoiado em extensa numeralha, Beato discute os custos econômicos da violência: gastos dos sistemas de saúde, judiciários, segurança; desvalorização de imóveis, migrações, perdas no turismo etc. Cita cálculos que chegam apontar perdas de até 5% no PIB de municípios como São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Outros estimam em 10% do PIB o custo para o país.
Para ficar apenas no que o sociólogo denomina de “capital humano”, as perdas são calculadas em R$ 20,1 bilhões por ano, sendo R$ 9,1 bilhões somente com homicídios. É a soma estimada do rendimento que as pessoas que morreram teriam durante a vida.
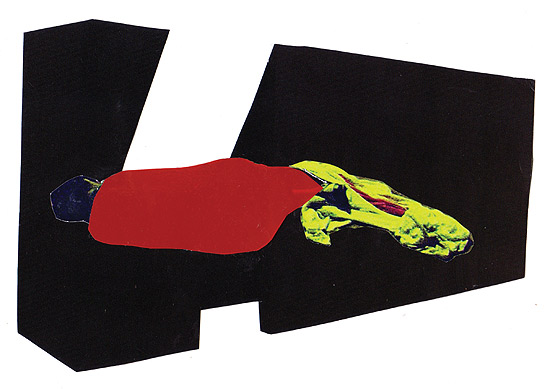
Colagem da artista plástica Manuela Eichner sobre fotografias de Marlene Bergamo
Observando o mapa da violência na cidade de São Paulo, Beato aponta que, “a despeito da redução dos homicídios, sua concentração em determinadas áreas permanece. Não por acaso, localiza-se em áreas de indicadores sociais e de oferta de serviços públicos deteriorados”. Ele nota, entretanto, que “nem todas as áreas degradadas concentram homicídio, mas estes ocorrem sempre em locais com baixos indicadores sociais”. Para Beato, “não é a pobreza em si mesma, mas uma soma de aspectos” que levam à violência.
Para o sociólogo José Vicente Tavares dos Santos, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o paradoxo da manutenção de altos níveis de criminalidade com a redução da desigualdade social e aumento da renda indica que “não há relação entre pobreza e violência. Tem muito a ver com a questão econômica, mas não apenas. Há outras questões de ordem cultural, institucional, política”.
“A violência penetrou em todo o tecido social. Passou a ser, em vários grupos sociais, uma norma de conduta, um valor. A violência não está na margem da sociedade. E a sociedade é muito mais violenta do que ela mesmo quer admitir, pois há uma violência invisível”, afirmou Santos à Folha.
Ele lembra dos casos recorrentes de castigos corporais em crianças e idosos, ataques contra mulheres, além da violência do Estado, por meio da polícia, e de grupos organizados. Aponta para a diversidade nos números: “Houve uma leve tendência à redução nos últimos dez anos, com algumas exceções. Houve alta redução em SP, MG e RJ. Há Estados estáveis, como o RS, e outros onde cresceu muito a violência, como Alagoas, Bahia, sul do Pará”.
Santos argumenta que a situação de São Paulo e Rio não se reproduzem outros lugares: “Em São Paulo há um monopólio das organizações criminais; no Rio a ordem é mais competitiva. Nas outras capitais onde há crime organizado ele ainda está num ‘período manufatureiro’. Não num período de ‘indústria’ e nem no ‘monopolista'”. E alerta: “Mas o resto do Brasil poderá chegar ao caso de São Paulo e Rio de Janeiro, se não forem tomadas medidas adequadas”.
Em São Paulo e no Rio ocorrem 40% dos homicídios no Brasil, apesar de as metrópoles terem apenas 18% da população, aponta Beato, ressaltando que essa concentração de casos também surge dentro das cidades. Pondera, porém, que “é justamente nesses ‘hot spots’ municipais e metropolitanos que temos observado um declínio na violência no país”.
As razões não estão claras. Pioras aparecem em regiões de estagnação econômica, mas também de crescimento. Algumas hipóteses passam pela mudança da estrutura etária dos grandes centros e por políticas públicas exitosas.
Já Feltran acredita que a política de segurança centrada no encarceramento em massa fortaleceu o PCC nos presídios e nas periferias, fazendo-o hegemônico na regulação do uso da força letal e dos mercados ilícitos nesses territórios. “Fortalecido, o crime interditou os homicídios nas prisões e periferias. Isso repercute nas estatísticas e legitima esses atores entre as famílias”, declara.
Em Sapopemba, a taxa média de homicídios desabou na última década. De 73,1 por 100 mil habitantes em 2000 (entre adolescentes homens jovens –326,40 por 100 mil –, a taxa chegou a ser mais de dez vezes maior do que a média paulista) para 6,6 a cada 100 mil em 2011.
Haveria um “pacto anticivilizatório”, determinado pelos bandidos? Santos, 63, advoga que esse não deve ser o único fator a explicar a redução nos homicídios em regiões. Há muitos outros: razões demográficas (reduziu o número de jovens em idade de morrer e matar), aumento de emprego formal, ações de ONGs, de empresas públicas e privadas, de igrejas que criaram ou recriaram laços sociais.
Ele lembra que um ponto importante na nova configuração da violência é a oferta de armas. Na América Latina, elas se disseminaram a partir dos anos 1980, com o avanço do tráfico de drogas. “Isso transformou os conflitos sociais e interpessoais em conflitos letais. Um conflito conjugal se transforma em conflito letal; as crianças encontram arma dentro de casa. A violência passa a ser uma norma de conduta. No caso do crime organizado, das máfias, é uma norma que ordena relações”, argumenta.
Já Michel Misse, 61, sociólogo da UFRJ, agrega outros elementos à essa análise. Diz ele: “O aparelho policial não está no ar, está dentro da sociedade. Por exemplo, o modo pelo qual matamos ladrões. Não matamos assassinos, matamos ladrões! E jamais legalmente, aprovando a pena de morte. Matamos criminosamente, fazemos justiça com as próprias mãos”.
E segue, buscando mais raízes para a questão: “Um cara que em qualquer país do mundo pegaria cinco, oito anos de cadeia, aqui ele é morto sistematicamente desde meados dos anos 1950. Isso é um fenômeno estritamente brasileiro. Começou na época dos esquadrões da morte, depois se espalhou. Começou no Rio, em pleno governo JK, em plena bossa nova, num período desenvolvimentista”.
O desabafo de Misse está em “As Ciências Sociais e os Pioneiros nos Estudos sobre Crime, Violência e Direitos Humanos no Brasil” [org. Renato Sérgio de Lima e José Luiz Ratton, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Urbania, Anpocs, 304 págs., R$ 48]. O livro traz entrevistas com 14 intelectuais da área e três depoimentos sobre dois “pioneiros” já mortos. Os intelectuais falam de leituras, pesquisas, influências. Alguns, como Gláucio Soares, da Uerj, criticam o “colonialismo intelectual” da sociologia brasileira.
“Os conceitos foram desenvolvidos para aqueles países [da Europa e os EUA]. E nos acostumamos a usá-los acriticamente, o que é facilitado pela atividade de nossos intelectuais que têm pouco ou nenhum contato com a realidade em que vivem, ou, mais exatamente, em que muitos de seus compatriotas menos afortunados vivem”, dispara Soares, 78.
Paulo Sérgio Pinheiro, 68, hoje integrante da Comissão da Verdade, recorda que foram os presos políticos durante a ditadura que descobriram a temática das prisões. “Aqui, a democracia não acabou com a tortura. É uma coisa com a qual vou morrer indignado. A tortura continua!”, afirma.
E ataca: “A culpa de a tortura continuar não é da polícia. É culpa dos governos e dos políticos, que não querem fazer o jogo da verdade em relação ao problema da democracia e dos direitos humanos. O Brasil tem essa esquizofrenia de ser o país que mais mata suspeitos pelas polícias do Rio e de São Paulo. Os números do Rio e de São Paulo não se equiparam aos de nenhuma democracia do mundo”.
Julita Lemgruber, 67, socióloga dedicada ao estudo das prisões, rememora o tempo em que comandou o sistema penitenciário do Rio (1991-94, no governo Brizola). Um dia, ao sair do comando, ouviu de um carcereiro tido como violento uma emocionada fala: “Aprendi com a senhora que uma cadeia sem violência é bom para todo mundo, para o preso e para o guarda também”.
Sobre a situação atual, ela também faz seu alerta no livro: “Vejo com muita preocupação o crescimento geométrico do número de presos no país, que triplicou em 15 anos e, pior do que isso, o número de condenados por tráfico de drogas triplicou em cinco anos. O Brasil já tem meio milhão de presos, a quarta maior população carcerária do mundo [depois dos EUA, China e Rússia] e 700 mil pessoas cumprindo penas e medidas alternativas. Ou seja, o Brasil tem 1,2 milhão de pessoas controladas pelo sistema de justiça criminal”.
“O encarceramento é uma bomba retardada”, define Tavares dos Santos, ao lembrar que 230 mil presos são provisórios, sem condenação. Mutirões constataram que 20% dos encarcerados ou tinham cumprido pena, ou nunca deveriam ter estado lá, ou deveriam ter recebido progressão da pena.
“Há uma consciência punitiva que perpassa a sociedade e que se expressa no Judiciário e que produzirá uma maior violência amanhã”, afirma. “O cárcere tudo faz, menos ressocialização. Tem desde o sujeito que roubou leite para o filho até o matador. O egresso é jogado no mundo sem carteira de identidade, sem dinheiro para o ônibus. A prisão está produzindo delinquentes.”
Esse é o tema também de David Fonseca, da UFMG, em “Ambivalência, Contradição e Volatividade no Sistema Penal”, coletânea de artigos organizada por ele e Carlos Canêdo [Editora UFMG, 340 págs., R$ 62]. Mestre em ciências criminais e doutorando no Institute for Law and Society da New York University, Fonseca historia os sistemas de punição no Brasil e mostra o “desmantelamento do modelo de bem-estar penal”.
Ele conta que a “euforia inicial” da aprovação da Constituição de 1988 deu lugar ao desalento: “Além das condições catastróficas de justiça criminal, principalmente suas penitenciárias, uma nova mentalidade foi cunhada, mais punitiva e orientada para o risco”.
Fonseca argumenta que os novos arranjos na punição e controle do crime “são correlacionados ao surgimento de uma subclasse” –um segmento da sociedade que é visto como permanentemente excluído da mobilidade social e integração econômica.
Já que não fazem parte do exército de reserva para o mercado, “reintegração e reabilitação não são considerados nem possíveis nem desejáveis”, escreve Fonseca, que identifica uma espécie de visão de “gerenciamento do lixo” o que ocorre nos cárceres.
O autor observa que, numa sociedade cada vez mais ancorada no individualismo, “a prisão, em vez de ser o último recurso, funciona como um mecanismo de exclusão e controle, no qual os infratores são segregados e têm seus direitos completamente desconsiderados se eles oferecem um risco para a sociedade”.
E como chegamos a tudo isso? Tavares dos Santos responde: “Primeiro uma questão de cultura política. As forças democráticas brasileiras desde a redemocratização nunca pensaram a violência, nem à esquerda, tampouco à direita. Quando se reduziu a violência do Estado, emergiu uma violência social que estava larvar”.
E acrescenta: “A questão da segurança não é pensada politicamente no Brasil, mas de um modo muito repressivo, muito primitivo, no sentido de que se quer uma vingança. É preciso criar uma segurança cidadã. A segurança pública é um conceito muito ligado à defesa do Estado e da propriedade. A segurança cidadã implica cada cidadão e cidadã estar seguro no seu cotidiano”. Ele enxerga avanços nessa discussão e considera que há “um processo não linear de transformação”.
O Brasil ainda parece longe da realidade de países onde máfias e cartéis dominam o cenário, penetrando nas instituições. Podemos chegar lá? “Se não houver uma ação política e cultural tem que se ter cuidado. A ordem e o progresso não são inevitáveis. Pode haver desordem e atraso”, diz Tavares dos Santos.
Ilustrações de MANUELA EICHNER sobre fotografias de MARLENE BERGAMO.

